Não por acaso, o Código Civil de 2002 (CC/2002) deslocou a simulação do negócio jurídico do capítulo relativo aos defeitos do negócio para o capítulo “Da invalidade do negócio jurídico”, impedindo, dessa forma, sua convalidação em qualquer que seja o requisito que o tornou defeituoso.
Simular significa enganar, representar, aparentar, iludir. A simulação do negócio jurídico (artigo 167 do CC/2002) ocorre quando há uma declaração enganosa de vontade de quem praticou o negócio, de forma a fazer parecer real o acordo que tem por origem uma ilicitude, visando, no geral, fugir de obrigações ou prejudicar terceiros.
Tamanha é a gravidade da simulação que, a partir da alteração feita pelo novo código, o interesse em sua nulidade passou a transcender a vontade das partes envolvidas, de modo que o próprio juiz pode suscitá-la.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), responsável por uniformizar a aplicação das leis federais, já se debruçou diversas vezes sobre questões relativas à simulação do negócio jurídico.
Legitimidade dos contratantes para invocar a nulidade do ato simulado
A ministra Nancy Andrighi, em voto proferido como relatora do REsp 441.903, afirmou ser possível que um dos contratantes, com base na existência de simulação, requeira contra o outro a anulação judicial do contrato.
Na ocasião, a Terceira Turma analisou recurso envolvendo suposta simulação em parceria pecuária firmada para “esquentar dinheiro”, prática conhecida como “vaca-papel” ou “boi-papel”, em que alguém se obriga a cuidar do gado – que, na realidade, não existe – de outra pessoa e devolvê-lo após certo prazo.
Ao STJ, as partes que requereram na origem a desconstituição do negócio – responsáveis pelo cuidado das “vacas” – impugnaram acórdão do Segundo Tribunal de Alçada Civil de São Paulo, o qual destacou que ninguém pode alegar a própria torpeza em juízo. Assim, não poderiam os responsáveis pela simulação pedir o desfazimento judicial do negócio.
Ao decidir, Nancy Andrighi mencionou o artigo 104 do Código Civil de 1916, segundo o qual, se houve o objetivo de prejudicar terceiros ou violar a lei, os contratantes nada poderão alegar ou requerer em juízo quanto à simulação do ato, em litígio de um contra o outro ou contra terceiros.
Ela ressaltou, porém, que tal artigo interpretado de modo literal permite que um dos simuladores se locuplete à custa do outro, perpetuamente. “Em muitos casos, a jurisprudência interpretou o mencionado dispositivo de forma a atender antes ao seu espírito, permitindo que um dos contratantes, em negócio jurídico simulado com o fim de fraudar a lei, requeira em juízo a sua anulação”, afirmou a ministra.
CC/2002 não fez distinção entre a simulação inocente e a fraudulenta
A magistrada salientou que esse entendimento foi reforçado com a edição do CC/2002, pois não houve distinção entre a simulação inocente e a fraudulenta, nem proibição de que uma parte contratante alegue, em sua defesa contra a outra, a existência de simulação – conforme o artigo 167, segundo o qual “é nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma”.
Em 2018, no REsp 1.501.640, a Terceira Turma – dessa vez sob a relatoria do ministro Moura Ribeiro – confirmou o entendimento: “Com o advento do CC/2002, ficou superada a regra que constava do artigo 104 do CC/1916, pela qual, na simulação, os simuladores não poderiam alegar o vício um contra o outro, pois ninguém poderia se beneficiar da própria torpeza”, afirmou o relator, citando a conclusão firmada no Enunciado 294 da IV Jornada de Direito Civil, promovida pelo Conselho da Justiça Federal (CJF).
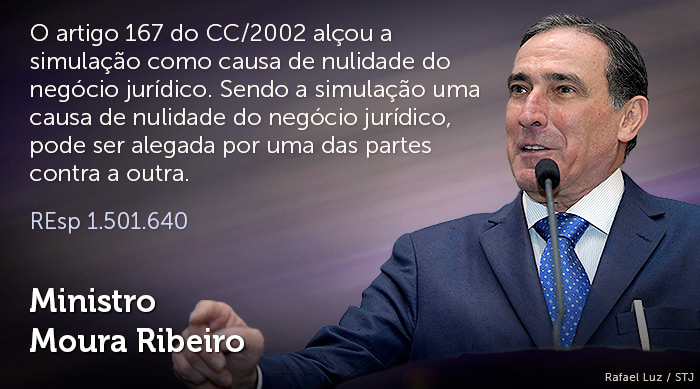 Prática da simulação para encobrir a realização de pacto comissório
Prática da simulação para encobrir a realização de pacto comissório
Ainda sobre o tema, a Quarta Turma, no julgamento do REsp 1.076.571, decidiu que a prática de negócio jurídico simulado para encobrir a realização de pacto comissório pode ser alegada por um dos contratantes como matéria de defesa, em contestação, mesmo quando aplicável o CC/1916.
A relatoria foi do ministro Marco Buzzi, o qual registrou que “impedir o devedor de alegar a simulação, realizada com intuito de encobrir ilícito que favorece o credor, vai de encontro ao princípio da equidade”.
Alegação de nulidade por simulação prescinde de ação própria
Ao julgar o REsp 1.582.388, a Primeira Turma entendeu que a discussão acerca da simulação do negócio jurídico prescinde de ação própria e pode ocorrer, inclusive, na fase de execução.
Na origem do caso analisado pelo colegiado, a Fazenda Nacional, no curso de uma execução fiscal, sustentou a simulação em negócio no qual um contribuinte, supostamente, teria transferido bens a seus netos com o intuito de impedir a satisfação do crédito tributário.
O juiz, mesmo reconhecendo má-fé e ilicitude na transmissão dos bens, indicou que tal questão não poderia ser dirimida na execução, devendo ser proposta ação própria. A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5).
Relator do recurso no STJ, o ministro Napoleão Nunes Maia Filho (aposentado) lembrou que a simulação, com o CC/2002, passou a ser considerada causa de nulidade do negócio jurídico e que, segundo a jurisprudência do STJ, a nulidade absoluta é insanável, de forma que poderá ser declarada de ofício.
“Logo, se o juiz deve conhecer de ofício a nulidade absoluta, sendo a simulação causa de nulidade do negócio jurídico, sua alegação prescinde de ação própria” afirmou o relator.
Destacou ainda que o novo código adotou a teoria das nulidades (artigos 168, parágrafo único, e 169), de acordo com a qual nem o juiz nem as partes, ainda que por expresso requerimento, podem confirmar o negócio jurídico nulo.
Na mesma linha, a Terceira Turma, sob a relatoria do ministro Moura Ribeiro, ao julgar o REsp 1.927.496, entendeu que a nulidade de negócio jurídico simulado pode ser reconhecida em embargos de terceiro. O processo tratou de possível simulação na compra e venda do quadro “A Caipirinha”, de Tarsila do Amaral.
“É desnecessário o ajuizamento de ação específica para se declarar a nulidade de negócio jurídico simulado. Dessa forma, não há como se restringir o seu reconhecimento em embargos de terceiro”, afirmou o relator.
Sob o CC/2002, não se pode alegar prescrição ou decadência na simulação
Outro importante aspecto sobre o negócio jurídico simulado, a partir da vigência do CC/2002, é que ele não se submete aos institutos da prescrição ou da decadência.
Ao analisar o AgInt no REsp 1.388.527, de relatoria do ministro Villas Bôas Cueva, a Terceira Turma confirmou a tese de que a simulação é insuscetível de prescrição ou de decadência, por ser causa de nulidade absoluta do negócio jurídico, nos termos dos artigos 167 e 169 do código.
Esse também foi o entendimento dos ministros Raul Araújo (AgInt no AREsp 1.557.349), Marco Aurélio Bellizze (AgInt no REsp 1.783.796), Antonio Carlos Ferreira (EDcl no AgRg no Ag 1.268.297) e Paulo de Tarso Sanseverino (AgInt no REsp 1.577.931).
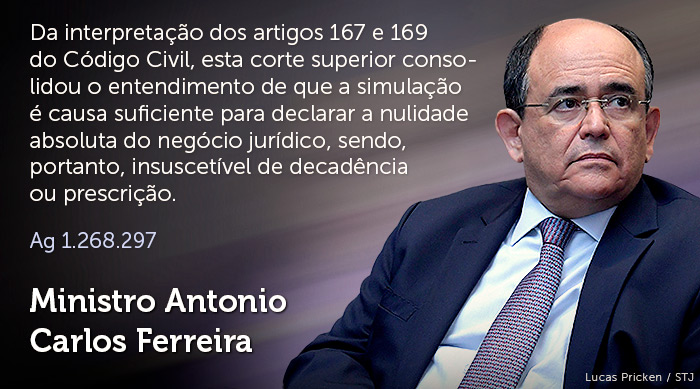 Situação diversa, ensina o ministro Raul Araújo no REsp 1.004.729, ocorre nos processos ainda regidos pelo antigo Código Civil, nos quais “a alegação de simulação em negócios jurídicos atrai a incidência do princípio tempus regit actum, afastando a aplicação das regras do CC/2002, para, com base no artigo 178, parágrafo 9º, V, b, do Código Beviláqua, reconhecer-se a ocorrência de prescrição”.
Situação diversa, ensina o ministro Raul Araújo no REsp 1.004.729, ocorre nos processos ainda regidos pelo antigo Código Civil, nos quais “a alegação de simulação em negócios jurídicos atrai a incidência do princípio tempus regit actum, afastando a aplicação das regras do CC/2002, para, com base no artigo 178, parágrafo 9º, V, b, do Código Beviláqua, reconhecer-se a ocorrência de prescrição”.
Venda de bem de ascendente para descendente por meio de pessoa interposta
No REsp 999.921, a Quarta Turma, sob a relatoria do ministro Luis Felipe Salomão, entendeu que a venda de bem de ascendente para descendente realizada por intermédio de interposta pessoa, sem o consentimento dos demais descendentes, ainda na vigência do CC/1916, é caso de negócio jurídico simulado que pode ser anulado no prazo de quatro anos previsto no artigo 178, parágrafo 9º, V, b, do mesmo código.
Ao proferir seu voto, o relator destacou que, nesse caso, tem-se como termo inicial a data da abertura da sucessão do alienante, mostrando-se inaplicável o disposto na Súmula 494 do Supremo Tribunal Federal (STF).
“Entender de forma diversa significaria exigir que descendentes litigassem contra ascendentes, ainda em vida, causando um desajuste nas relações intrafamiliares. Ademais, exigir-se-ia que os descendentes fiscalizassem – além dos negócios jurídicos do seu ascendente – as transações realizadas por estranhos, ou seja, pelo terceiro interposto”, comentou Salomão.
Quanto à mesma situação na vigência do CC/2002, a ministra Nancy Andrighi, em decisão de 2020 noREsp 1.679.501, destacou que a venda direta de ascendente para descendente, tanto quanto a realizada por meio de interposta pessoa, são atos jurídicos anuláveis, desde que comprovada a intenção de disfarçar uma doação ao descendente adquirente, em prejuízo à legítima dos demais herdeiros, razão pela qual se aplicaria o prazo decadencial de dois anos previsto no artigo 179 do CC/2002.
O recurso julgado pela Terceira Turma foi interposto contra decisão do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), o qual entendeu que a venda direta de ascendente a descendente por meio de interposta pessoa configuraria negócio jurídico simulado – portanto, nulo – que, conforme os artigos 167 a 169 do CC/2002, não convalesce com o tempo.
Porém, a magistrada explicou que, nesse caso, “o que se deve ter em mente é que a causa real de anulabilidade do negócio jurídico não é propriamente a simulação em si, mas a infringência taxativa ao preceito legal contido no artigo 496 do CC/2002. Por essa razão, não há que se falar na aplicabilidade dos artigos 167, parágrafo 1º, I, e 169 do CC/2002″.




Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!